Identidade judaica: nada a esconder
Edição #268: Deborah Lipstadt, o 7 de outubro, Israel e judaísmo

Fiz recentemente uma tatuagem que tenho receio de mostrar. Tem uma parte inteira - enorme - da minha identidade sobre a qual não gosto muito de falar. Não é mania de perseguição, pois a cada vez que escrevo ou posto sobre ela, recebo invariavelmente algum comentário desagradável. Escrevi e apaguei este parágrafo uma dúzia de vezes, tentando achar o tom certo para falar aquilo que não deveria ser um problema. Sou judia. Sou sionista. E meu mundo caiu no dia 7 de outubro, com os ataques do Hamas a Israel - assim como o de tantos outros judeus.
Era um sábado de manhã e eu já estava na estrada quando recebi a notícia. Houve um ataque, ninguém sabia ao certo o tamanho, uma guerra havia começado. Mas já tinha visto tantas guerras em Israel que não dei muita importância. Foi só quando chegamos à casa que alugamos no interior que consegui abrir o celular com calma e começar a entender a monstruosidade do que tinha acontecido. Famílias queimadas vivas. Mulheres estupradas. Bebês degolados. Reféns - muitos reféns.
Para quem não é judeu, é difícil de entender o tamanho da importância que Israel tem para nós. Israel nasceu depois da barbárie da 2ª Guerra Mundial, quando o mundo entendeu que o povo judeu tinha direito à autodeterminação e a um Estado próprio, na sua terra ancestral. Cresci com a certeza de que Auschwitz havia ensinado a todos os riscos do antissemitismo. "Nunca mais", dissemos tantas vezes. A existência de Israel significa segurança para os milhões de judeus que vivem espalhados pelo mundo.
Aquelas histórias de violência do dia 7 de outubro acabaram comigo. Nas primeiras semanas, só conseguia dormir com remédio. Fechava os olhos e via as crianças reféns em Gaza - era como se fossem parte da minha família. Mas o que mais me chocou foi a reação do mundo ao que estava acontecendo - mesmo antes de começar a ofensiva israelense em Gaza. "Foi horrível, mas Israel fez por merecer. Você já viu a forma como eles tratam os palestinos?".
A minha resposta a tudo isso foi a mais judaica possível: corri para os livros. Mandei uma mensagem no WhatsApp para meu rabino: "o que é que eu leio?". E tenho passado estes últimos meses mergulhada em obras sobre o antissemitismo, a identidade judaica, a cultura do meu povo. Logo vai nascer um podcast de tudo isso. Virou tema de um estudo independente que estou fazendo no mestrado. E comecei a entender e reconhecer muito das respostas que eu via ao meu redor, incrédula.
A historiadora americana Deborah Lipstadt, enviada especial do governo dos EUA para o combate ao antissemitismo, fala do discurso "Yes, but": uma resposta comum a um ataque contra judeus ou contra Israel. "Sim, é horrível o que aconteceu, mas é culpa deles". É uma racionalização de atos de terror que seriam vistos como inaceitáveis caso fossem cometidos contra qualquer outra minoria. Lipstadt fala que este tipo de discurso seria impossível caso estivéssemos falando de um ataque contra uma clínica de aborto, por exemplo. Mas é exatamente o que aconteceu após o 7 de outubro.
Na minha dor e choque, algo ficou claro pela primeira vez na vida: ser judia não é um aspecto menor da minha identidade, mas sim algo central. Foi só então que entendi a minha identidade. Sou judia - e o judaísmo é a minha base. Minha cultura, meus valores, minhas paixões. Minha família. Esta é quem eu sou.
Mas quando fui defender o Estado de Israel e pedir a libertação dos reféns no Instagram e aqui na newsletter, recebi uma chuva de críticas. "Sua burra". "Sua ignorante". "Não esperava isso de você". "Vocês judeus etc etc". Então me calei. Voltei a falar de literatura, parei de postar nas redes e pensei em como poderia ter um papel ativo na defesa do meu povo sem ter que me expor pessoalmente.
Comecei então a trabalhar como voluntária em um projeto de combate ao antissemitismo. Fui estudar o assunto a fundo. Estou criando o podcast. Mergulhei nos livros, nas minhas raízes e na minha comunidade.
Quis fazer uma tatuagem para carregar este reconhecimento na pele. Escolhi uma estrela de David - a ideia era fazer na coluna, em um lugar que ficasse guardado só para mim. Mas na hora, a tatuadora me disse que aquele não era um bom lugar, iria distender, melhor fazer no lado interno do braço. "Ninguém vai ver", ela me assegurou.
Mas agora, na minha viagem na Itália, tive pela primeira vez medo que vissem. Era um dia quente e eu estava só de camiseta. Fomos visitar o gueto judaico de Veneza - o primeiro gueto do mundo - e demos de cara, na entrada do gueto, com uma bandeira enorme da Palestina. Olhei para o lado e vi uma suástica pixada. Senti que não estava segura ali. Tive vontade de me cobrir, de esconder a estrela que mora na minha pele.
Por outro lado, faço parte de um povo que cansou de se esconder. Só consegui articular tudo que sinto depois de ver um post no Instagram de Shai Davidai, professor na Universidade de Columbia e um dos porta-vozes dos alunos judeus quando os protestos pró-Palestina tomaram o campus de Columbia e de tantas outras universidades:
"Falar é difícil (...) Mas falar dá a o mundo a oportunidade de mostrar ao mundo quem você realmente é".
Após pensar muito, foi exatamente isso que decidi fazer. Falar sobre quem sou. Esta newsletter é o lugar onde exercito minha criatividade e escrevo sobre tudo que mexe comigo. Eu não podia não falar sobre este lugar que é tão vital para mim. Não tenho nada a esconder.
Então preciso deixar alguns pontos claros: ser sionista significa defender o direito de existência de Israel e da autodeterminação do povo judeu. Não significa odiar os palestinos - pelo contrário. A maioria dos sionistas que conheço é, assim como eu, a favor da criação do Estado Palestino. Acredito na convivência pacífica entre os dois povos. No entanto, após um ataque sem precedentes como o do 7 de outubro (e de ameaças constantes de novos ataques), acredito que Israel tem o direito de se defender e garantir a sua segurança. Isso não quer dizer que sou a favor do massacre de palestinos - algo que o Exército israelense se esforça para que não aconteça.
Quem acredita que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio não entende que esta palavra significa o extermínio intencional de um povo inteiro. 20% da população israelense é árabe e eles ocupam lugares proeminentes na sociedade. São médicos, executivos, deputados, empreendedores. Israel tem sido o país que mais enviou ajuda humanitária (água, remédios, comida, eletricidade) a Gaza - muito mais do que o Egito. Falar que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio é ignorar que esta palavra foi criada para descrever o que aconteceu com o povo judeu na 2ª Guerra e que, ao utilizar o termo, está praticando uma forma de apagamento do Holocausto.
Dito tudo isso: esta guerra precisa terminar o quanto antes. Basta o Hamas libertar os reféns. Netanyahu precisa sair do poder. Ser judia e sionista não deveria me colocar em um cabo de guerra com minha orientação política progressista. Mas é assim que me sinto a cada vez que saio em defesa de Israel.
Não consigo descrever direito a sensação de liberdade que sinto ao escrever aqui o que penso e sinto - mas ela vem acompanhada de um aperto na garganta. É a aflição de quem tem medo de receber mais ataques, mais críticas. Mas não falar não era mais uma opção.



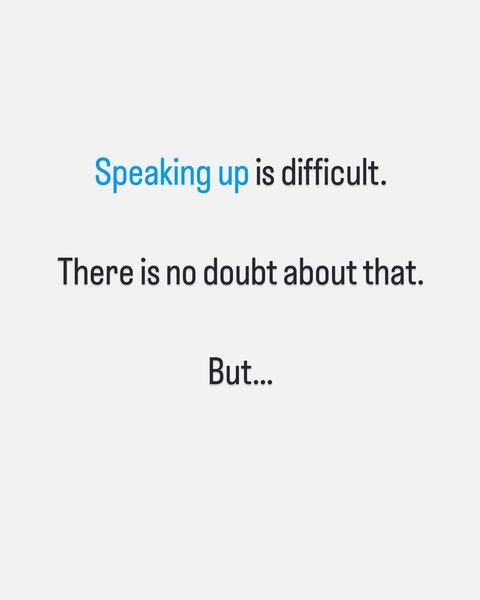
Lindo de ver e ler a sua coragem.
👏🏻
Estou aqui aplaudindo você e também honrando quem você é. 🙏🏻🫶🏻
(Sou neta de libanês muçulmano)
O “não” a qualquer guerra começa quando dentro de nós aceitamos o diferente. Na verdade: semelhante. 🙏🏻❤️
Como alguém que não vem dessa cultura, adoraria saber mais de como a cultura judia se manifesta no cotidiano dos judeus brasileiros. Que bom que você está falando, é importante! Um abraço forte, Carol!